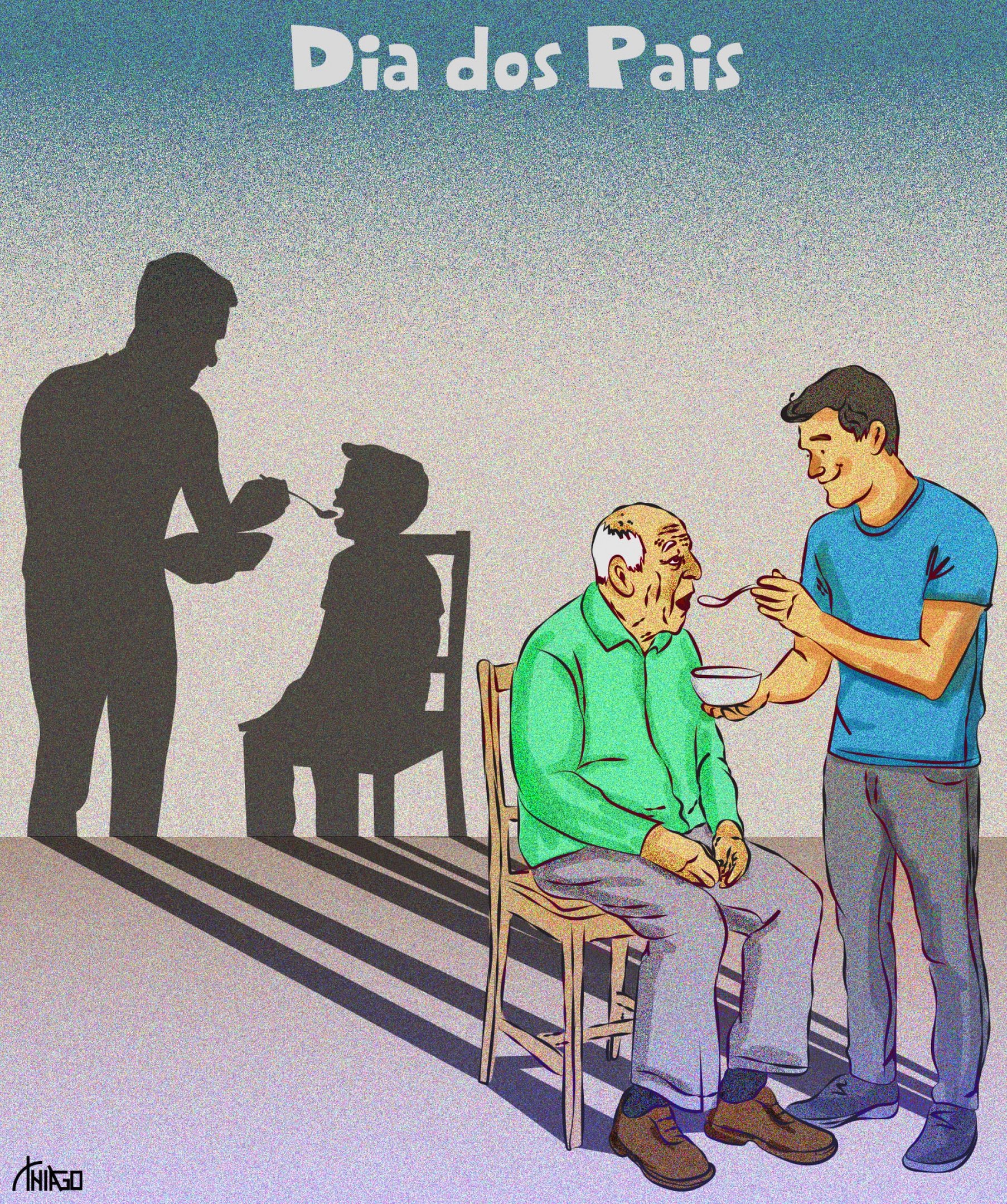Dayse de Vasconcelos Mayer: O eloquente ruído do silêncio: a "Valsa com Bashir"
A guerra é a casa ou morada do silêncio e dos mortos. É uma casa que jamais se desmorona porque foi erguida sobre os alicerces da memória...

Clique aqui e escute a matéria
O “The Guardian” publicou, recentemente, uma charge da cartunista inglesa Ella Baron onde se lê a frase “Paying lip service” , traduzida, não literalmente, como “da boca para fora” ou sem intenção alguma de tomar uma medida concreta. Na imagem, vemos, em Gaza, uma grade separando crianças palestinas, abatidas pela fome, levantando recipientes vazios e, da outra banda, Trump, Macron, Keir Starmer e Ursula von der Leyen. Os quatro revelam um olhar de pesar traduzido nas palavras: insuportável, absurdo, revoltante, verdadeiro. Em termos de retórica, eles desqualificam as observações de Benjamin Netanyahu: “a fome em Gaza é uma “mentira descarada” dos média.
Dessa leitura surgiu uma conclusão: a verdade está mesmo com Eric Hobsbawn. Na obra a “Era dos Extremos: o breve século XX”, o historiador denominou a primeira fase do livro de “era de catástrofes”. Certamente, ele incluiria o século 21 no relato de genocídios, massacres e etnocídios do século 20. Estamos na fase de todas as guerras.
A guerra é a casa ou morada do silêncio e dos mortos. É uma casa que jamais se desmorona porque foi erguida sobre os alicerces da memória e dos barbarismos forjados pelas civilizações. Em todas as gerações estão bem vivas as imagens dos estampidos ou explosões das bombas planadoras; mísseis; rasgões luminosos; drones e tanques de guerra. É o sinal de que um Monstrengo, vindo das trevas, celebra a barbárie e a agonia do mundo. E tudo remete à ideia de que teremos mais um dia sem findar; um sol sem aquecer e, finalmente, um grito torturante e abusivo na escuridão como se fosse um machado afiado sobre a nossa carne.
Revendo a mensagem do cartum, o Rei é uma figura indiferente à agonia. Talvez ainda não saiba que a verdade jamais prescreve. Num dia qualquer, quando os Monarcas estiverem distraídos, a antiga parábola de Hans Christian Andersen voltará (A roupa nova do rei) e uma criança inocente dirá: “o rei está nu”. Nesse instante, a “consciência coletiva”, adormecida e passiva, acordará.
Mas é preciso sentir o indizível em cada palavra que utilizamos. O inarrável é aquilo que é omitido ou silenciado, é a metade da vida e a metade da morte, tal como sucede com as faces de uma moeda. Em qualquer circunstância, a moeda revelará o selo da perversidade, intolerância e injustiça. Basta revolver da memória o Genocídio Armênio (1915 a 1917); o Massacre de Nankim (1938); o Assassinato em massa, Holocausto ou Genocício judeu (1938 a 1945); as Chacinas de Katyn (1940); os Extermínios de Hiroshima e Nagasaki (1945); a Guerra do Vietnã (1955 a 1975); o Killing Fields (Campos da Morte) no Camboja (1975 a 1979); a Carnificina de Chatila ( 1982); a Mortandade em Ruanda (1994); o Genocídio de Sabra e Shatila, no Líbano “1982); o Genocídio de Darfur ( 2003); a Matança contra a etnia dos Tutsis em Ruanda (1994); o Conflito Israel-Palestina (1947 até os nossos dias); a Dizimação da população ucraniana pela Rússia.
Esses campos do silêncio possuem algumas singularidades: é eternal porque os alicerces são formados pela memória dos homens; nas terras demolidas e reconstruídas foram erguidos museus do terror, sepulturas ou túmulos coletivos, reveladores das atrocidades praticadas; nas estradas devastadas e cobertas por cadáveres, encontramos a genuína igualdade: homens ao lado de mulheres, idosos, adolescentes e crianças, mãos calejadas pelo trabalho penoso ao lado de mãos finas, hidratadas e perfumadas.
Enfim, já se faz tarde para romper o silêncio. Ninguém sentirá o odor do tabaco nos velhos, o cheiro de alfazema nas crianças, o aroma de vida nos jovens. Soberanos, abaixem seus olhos impuros! Os mortos já não têm febre. Por isso dispensam vigília e explicações. Também é tarde para exigir justiça. Disso cuidarão aqueles que irão permanecer ou que virão. Eis o naco de esperança que ainda permanece.
Vale a pena recuperar a memória de fatos que nos traumatizam? A resposta vamos encontrar no primeiro documentário animado, em longa-metragem, dirigido por Ari Folman - “Valsa com Bashir” - filme que enfoca o drama da amnésia coletiva e individual. Por isso deve ser visto e debatido, nomeadamente, por psicanalistas.
O diretor já não relembrava um episódio do tempo em que tinha 19 anos e serviu ao Exército de Israel sob o comando de Ariel Sharon. Na condição de soldado, participou, em Beirute, do massacre em Sabra e Shatila quando falangistas libaneses dizimaram famílias, crianças, mulheres, homens e idosos numa ação que durou 38 horas. Mas Folman nada recordava, por conta do sentimento de culpa que abrigava. Lembrar-se da matança significava admitir a conivência com a bestialidade humana e a cumplicidade com governos ególatras e interessados no enriquecimento econômico e no fortalecimento do poder, mesmo que isso implicasse o sacrifício de milhões de cidadãos.
Mas a memória tem seus percalços e armadilhas. Foi necessária a confissão de um companheiro de tropa, atormentado por um pesadelo recorrente, para descobrir o que se passou no Líbano. O documentário revela os bastidores do Direito Internacional onde apenas os “Donos do Mundo” estão seguros. O resto vive a incerteza. Nada parece inteiro e findo. Sequer a dúvida.
Massacra-nos a consciência de que sofremos a dor produzida pelas imagens da crueldade decorrente da cegueira. A linguagem, principal forma de expressão do inconsciente, se manifesta, como na Valsa com Bashir, por meio de lapsos verbais, chistes, sonhos, pesadelos, atos falhos, deslizes da linguagem....
Enfim, é triste admitir que somos uma representação, em miniatura, da tragédia coletiva. Cada um de nós vive – mesmo que isso não seja perceptível – um drama intrincado na busca incessante de um lugar de paz. Cada um de nós atravessa paisagens acidentadas ou repleta de turbulências naturais e metafóricas. Cada um de nós constitui uma tapeçaria com imagens e cores desarmônicas e imperceptíveis pela ausência de humanidade e fraternidade. Afinal, somos o que somos: retratos de todas as contraversões e deformidades da condição de homens. Os grandes conflitos do presente representam a multiplicação das nossas feridas mais intensas provocadas pela figura de Verdugos com diferentes rostos. Mesmo expatriados, seremos sempre vencidos por uma realidade que nos ultrapassa e que insistimos em ignorar.
O fecho desse texto é o registro do pronunciamento recente de Amichay Eliyahu, um dos ministros de Benjamin Netanyahu: Israel não tem o dever de mitigar a fome de Gaza, pela simples razão de que “não há nação que alimente os seus inimigos”. Enquanto isso, e sem deixar de lado o sofrimento do povo israelense, começa a abrolhar uma modalidade de “voyeurismo turístico” no Monte Kobi, em Sderot. Todos desejam ver a destruição de Gaza locando binóculos pelo valor de 1,27 euros por 2,5 minutos (Amilcar Correia, Público, 29.07).
Dayse de Vasconcelos Mayer é doutora em ciências jurídico-políticas.